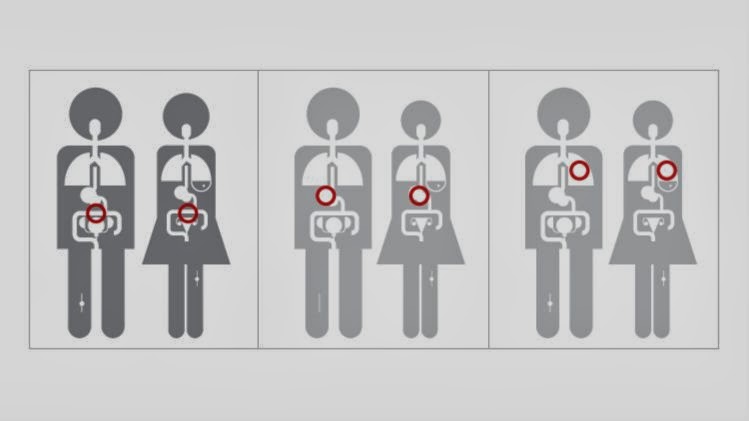Peritos da Organização Mundial de Saúde defendem que a única solução é a
prevenção, sugerindo a criação de um imposto para bebidas açucaradas.
O número de casos de cancros no mundo poderá subir 70% nos próximos
20 anos, alertou esta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS)
no Relatório Mundial sobre Cancro 2014. Os peritos dizem que a forma de
travar a epidemia não passa apenas pela cura, mas sobretudo pela
prevenção, e propõem, por exemplo, a criação de um impostos especial
para bebidas açucaradas. Entre as causas da subida estão o consumo de
álcool, de açúcar e a obesidade, cita o jornal britânico The Guardian.
Por ano, prevê-se que
surjam no mundo cerca de 25 milhões de novos casos de cancro. Metade
destes podem ser prevenidos, já que estão ligados a estilos de vida,
refere o documento produzido pela Agência Internacional para a Pesquisa
em Cancro, uma unidade da OMS especializada na patologia. Não é realista
travar a subida pensando apenas nas formas de curar a doença, defendem
os seus autores, notando que é essencial o enfoque na prevenção. Até
para os países mais ricos o fardo vai tornar-se insustentável em termos
de custos, refere o documento, citado pelo The Guardian.
Mas
a doença está cada vez mais presente também em países mais pobres, onde
os cancros mais frequentes têm origem em infecções, como é o caso do
cancro do colo do útero, muito prevalecente nestes países, onde não existe rastreio e muito menos acesso à vacina.
Nos
países mais ricos, os cancros que estão a aumentar estão sobretudo
ligados a estilos de vida, associados “ao uso crescente do tabaco,
consumo de álcool, ingestão de alimentos transformados e falta de
exercício físico”, escreve na introdução ao relatório Margaret Chan,
directora da OMS.
Prevenção e detecção precoce
Christopher Wild, director da Agência Internacional para a Pesquisa em Cancro e um dos autores do documento, disse que, apesar dos avanços no lado da cura, “o problema não se resolve apenas deste lado. É preciso mais prevenção e a detecção precoce é essencial.”
Christopher Wild, director da Agência Internacional para a Pesquisa em Cancro e um dos autores do documento, disse que, apesar dos avanços no lado da cura, “o problema não se resolve apenas deste lado. É preciso mais prevenção e a detecção precoce é essencial.”
Bernard Stewart, investigador da
University of New South Wales e outro dos autores, apelou à discussão
de medidas como a criação de um imposto especial para as bebidas
açucaradas, como uma possível forma de fazer diminuir cancros que têm
origem na obesidade e na falta de exercício físico.
Em
relação ao álcool, lembrou que o seu consumo esteve na origem de
337,400 milhões de mortes no mundo em 2010, sobretudo entre homens. A
maioria são mortes por cancro do fígado, mas o álcool também aumenta o
risco de cancro da boca, esófago, intestino, pâncreas, mama e outros. “A
sua rotulagem, os locais onde é comercializado e os preços de venda ao
público devem ser questões a debater”, disse Stewart. Propõe também a
criação de um imposto para bebidas açucaradas. O relatório refere que
todos os esforços para reduzir a percentagem de refrigerantes que têm
adição de açúcar deviam ser prioritários.