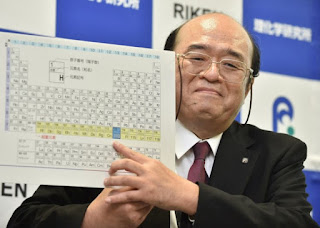São quase indestrutíveis, resistindo a condições extremas de frio,
calor, radiação ou pressão. No seu rol de recordes, inclui-se agora o
despertar de alguns ursinhos-de-água após um longo sono gelado e, por
isso, os cientistas não resistiram a chamar-lhes Belas Adormecidas.
 |
| Descendente de um dos tardígrados descongelados da espécie Acutuncus antarcticus (no seu interior, a verde, vêem-se as algas que comeu) |
 |
| Descendente de um dos tardígrados descongelados da espécie Acutuncus antarcticus |
 |
| Descendente de um dos tardígrados descongelados da espécie Acutuncus antarcticus |
 |
| Tardígrado visto ao microscópio electrónico de varrimento |
 |
| Tardígrado com ovos no seu interior |
 |
|
Tardígrado da espécie Macrobiotus sapiens no musgo visto ao microscópio electrónico de varrimento (as cores são falsas)
|
Na saga de ficção científica A Guerra das Estrelas, Han Solo,
a personagem interpretada por Harrison Ford, é congelado pelo vilão
Darth Vader e, mais tarde, é salvo e descongelado, recuperando por
completo. Na natureza, conhecem-se poucos animais capazes de sobreviver a
este processo. Agora descobriu-se que os minúsculos tardígrados, ou
ursinhos-de-água, como também são conhecidos, conseguem sobreviver ao
congelamento durante mais de 30 anos.
Num artigo científico, uma
equipa do Instituto Nacional de Investigação Polar do Japão descreve as
condições em que estes animais, congelados depois de terem sido
recolhidos na Antárctida em 1983, foram descongelados e recuperaram
completamente. É um recorde para estes animais já conhecidos pela sua
grande resistência.
“Ficámos surpreendidos. É espantoso que
consigam sobreviver, recuperar e reproduzir-se depois de terem estado
congelados tanto tempo”, comenta ao PÚBLICO Megumu Tsujimoto, ecologista
e primeira autora do artigo científico na revista Cryobiology.
Os
tardígrados são pequenos invertebrados, geralmente com menos de um
milímetro de comprimento, translúcidos, segmentados, com cabeça e quatro
pares de patas com várias garras. É devido ao seu aspecto e por viveram
na água e em ambientes húmidos, como o musgo, que também lhes chamam
ursinhos-de-água.
Alimentam-se de plantas, algas e bactérias e há
algumas espécies carnívoras. Sugiram na Terra há mais de 600 milhões de
anos e estão identificadas mais de mil espécies, existindo tardígrados
em quase todos os ambientes terrestres e marinhos, desde áreas geladas,
florestas tropicais, mares até ao topo das montanhas.
Além disso,
são conhecidos por resistirem a condições extremas — a temperaturas
muito baixas (a 200 graus Celsius negativos) e muito altas (a 150 graus
Celsius), ao vácuo, a pressões muito elevadas (1200 vezes a atmosfera
terrestre), a doses letais para outros animais de radiação ultravioleta e
raios gama. E até já foram ao espaço.
Parecem quase
indestrutíveis. A sua resistência deve-se à capacidade, em condições
adversas, de entrarem num estado reversível de latência – chamado
“criptobiose” –, em que perdem a água do corpo e o seu metabolismo
praticamente pára. No entanto, sem entrarem em criptobiose o seu tempo
de vida máximo é de 58 dias.
Os tardígrados têm características
tão distintas que dentro do reino animal têm o seu próprio filo (unidade
taxonómica em que se subdividem os reinos) – o filo Tardigrada. Estes animais foram descritos pela primeira vez em 1773 pelo zoólogo alemão Johann August Ephraim Goeze, que lhes chamou kleine Wasserbären (ursinhos-de-água). Três anos mais tarde, o biólogo italiano Lazzaro Spallanzani é que lhes atribuiu o nome Tardigrada, do latim tardus (lento) e gradus (passo).
Três Belas Adormecidas
Os tardígrados deste estudo, que tinham sido recolhidos em 1983, encontravam-se numa amostra de musgo obtida durante uma expedição japonesa de investigação científica na Antártica, na Terra da Rainha Maud, um território norueguês no Leste do continente branco. O musgo foi colhido numa altura em que não havia acumulação de neve e foi armazenado a 20 graus Celsius negativos.
Os tardígrados deste estudo, que tinham sido recolhidos em 1983, encontravam-se numa amostra de musgo obtida durante uma expedição japonesa de investigação científica na Antártica, na Terra da Rainha Maud, um território norueguês no Leste do continente branco. O musgo foi colhido numa altura em que não havia acumulação de neve e foi armazenado a 20 graus Celsius negativos.
“Como por vezes
podemos encontrar tardígrados nos musgos, esperávamos encontrar alguns
na amostra de musgo congelado. Uma vez que o recorde de sobrevivência
dos tardígrados a longo prazo em criptobiose era de nove anos para ovos e
de oito anos para animais adultos, tínhamos esperança de quebrar este
recorde”, lembra Megumu Tsujimoto.
Em Maio de 2014, a amostra foi
descongelada. Alguns tardígrados estavam mortos, dois encontravam-se
aparentemente em latência e havia ainda um ovo. Foram todos colocados
caixinha de laboratório com alimento e água, para voltarem a
hidratar-se, e observados à lupa e filmados. “A sobrevivência a longo
prazo de animais criptobióticos tem atraído muitos cientistas há muito
tempo, mas normalmente só eram descritas as reanimações e não eram
estudadas em detalhe as condições da recuperação e da reprodução”,
explica a investigadora.
Um dia depois de os cientistas japoneses
terem descongelado o ovo e os dois tardígrados – a que a equipa chamou
Belas Adormecidas –, os animais começaram a mexer as patas traseiras e,
nos dias seguintes, foram-se movendo mais e começaram a alimentar-se.
Um
deles, a Bela Adormecida 2, morreu ao fim de 20 dias, mas a Bela
Adormecida 1 recuperou e começou a produzir ovos: pôs 19 ovos, 14 dos
quais eclodiram e desenvolveram-se como adultos. Também o ovo, a Bela
Adormecida 3, que estava congelado eclodiu e deu origem a um adulto, que
por sua vez se reproduziu. Estes tardígrados pertencem à espécie Acutuncus antarcticus, que é endémica da Antárctida e partenogénica (pode reproduzir-se sem que ocorra fertilização).
Embora
o desenvolvimento dos animais ressuscitados fosse normal, foi mais
lento do que o habitual nesta espécie. Os tardígrados demoraram algum
tempo a recuperar e o tempo de eclosão do primeiro ovo foi maior do que
costume. “O tempo longo de recuperação observado neste estudo é
consistente com a reparação dos danos nas células e no ADN acumulados
durante os 30 anos de criptobiose”, lê-se no artigo científico.
Os
investigadores propõem-se agora estudar como é que estes animais
conseguem recuperar da exposição a condições ambientais hostis. “Agora
estamos a estudar mais amostras. Depois vamos examinar os danos no ADN e
a reparação que ocorre nos animais reanimados e revelar os mecanismos
subjacentes à sobrevivência a longo prazo destes animais
criptobióticos.”
Os tardígrados já não são só uma curiosidade
para os zoólogos e têm recebido alguma atenção, aparecendo em livros
infantis e exposições. Em 2015, foi fundada a Sociedade Internacional de Caçadores de Tardígrados
na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill (Estados Unidos),
dedicada ao estudo da biologia destes animais e à sua divulgação junto
do público em geral, disponibilizando informação para professores e para
quem queira fazer a sua “caça aos ursinhos-de-água”.
Nos últimos
meses, os tardígrados foram também alvo de atenção com a publicação dos
primeiros resultados da sequenciação do seu genoma. Este trabalho foi
realizado por duas equipas científicas diferentes que, porém,
apresentaram resultados distintos para a mesma espécie de tardígrado (Hypsibius dujardini). Primeiro, em Novembro de 2015, uma investigação liderada por investigadores da Universidade da Carolina do Norte
publicou um artigo indicando que um terço do genoma destes animais
continha genes adquiridos de outros grupos animais – a maior taxa alguma
vez encontrada em animais. Uma semana mais tarde, uma equipa da Universidade de Edimburgo,
no Reino Unido, publicou os resultados preliminares da sua
sequenciação, encontrando valores muito mais baixos para genes
“estrangeiros”, sugerindo por isso que os resultados da equipa
norte-americana se devessem a uma contaminação das amostras utilizadas.
Esta
divergência nos resultados da descodificação do genoma dos tardígrados é
também um exemplo da forma como avança a investigação científica e da
importância da validação dos resultados por outros cientistas que não
fizeram parte de uma equipa. Por agora, não há um veredicto final sobre a
composição do genoma dos tardígrados, mas este desfecho é aguardado com
curiosidade. Talvez a análise deste genoma possa desvendar parte do
segredo de como é que estas espécies conseguem tolerar condições
ambientais tão extremas.
Se recuperar e reproduzir-se ao fim de 30
anos de congelamento é um recorde para os tardígrados, não é um recorde
para os animais – há relatos de vermes nemátodos que superaram
congelamentos mais longos, como por exemplo o Tylenchus polyhypnus, depois de quase 39 anos congelado. Nesta perspectiva, a história em que Han Solo é congelado num dos filmes da saga de A Guerra das Estrelas e descongelado no filme seguinte torna-se quase uma brincadeira de crianças.
Texto editado por Teresa Firmino